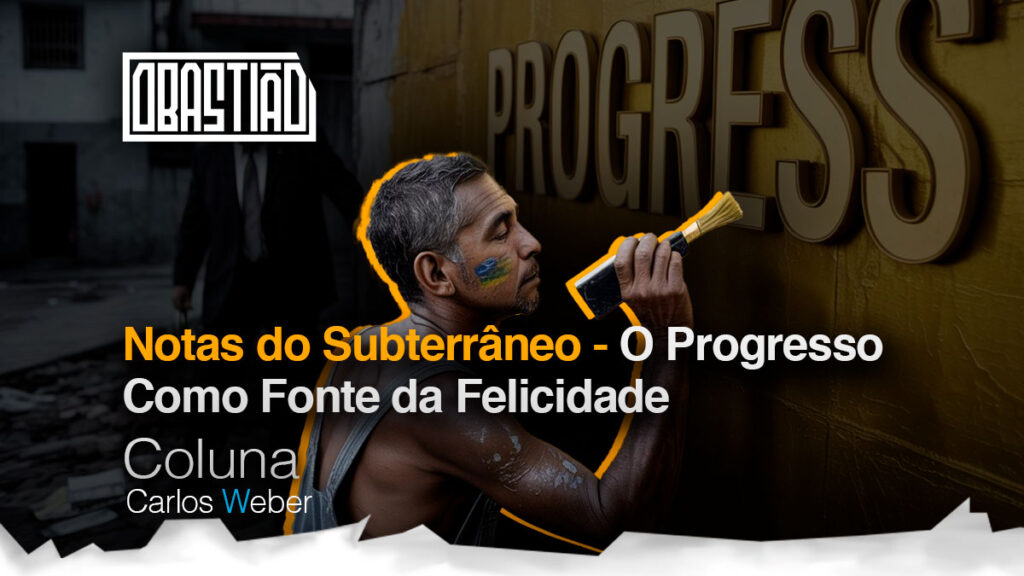Notas do Subterrâneo
Para todos aqueles que leram o livro supracitado, o subtítulo parece deveras contraditório, tendo em vista que a obra inteira, do início ao fim, é sobre um personagem rancoroso, desistente, que renega o progresso como fonte da felicidade humana, sendo alguém que não encontrou um propósito e busca constantemente esse propósito.
Dostoiévski, em sua genialidade, nos apresenta um protagonista que é a antítese do homem racional e progressista do século XIX. Um homem que, mesmo tendo alcançado certa estabilidade material como funcionário público, vive atormentado pelo vazio existencial, pela ausência de sentido em um mundo cada vez mais mecanizado e utilitarista. O “homem do subterrâneo” é a encarnação da revolta contra o determinismo científico e o racionalismo exacerbado que prometiam resolver todos os problemas humanos através do progresso material e tecnológico.
Enquanto o impecável romance de talvez o maior escritor russo da história explora a visão de quem foi funcionário público e atingiu um padrão de vida razoável e, mesmo assim, não alcançou a felicidade, nós, brasileiros, vivemos em um país em que, literalmente, uma das poucas formas de você convencer alguém a participar de algo ou fazer algo é prometer uma melhora material.
Essa realidade se manifesta em todos os níveis da nossa sociedade. Desde o discurso político que invariavelmente promete crescimento econômico e aumento de renda como solução para todos os males, até as conversas cotidianas em que o sucesso é medido quase exclusivamente por conquistas materiais: o carro novo, a casa própria, o celular de última geração. Raramente ouvimos falar de realização pessoal em termos de crescimento intelectual, espiritual ou de contribuição para o bem comum.
Essa situação nos mostra duas coisas: 1. O nosso povo é pouco espiritual, pouco transcendental e tem baixa capacidade de abstração e de sonhar, tendo em vista que essas características são as que compõem alguém que busca um propósito maior que o sucesso financeiro e material. 2. Nosso país é um lugar extremamente pobre. Somos absolutamente miseráveis.
A primeira constatação pode parecer dura, mas basta observar como nossas manifestações culturais mais populares raramente abordam questões existenciais profundas. Nossa música, nossa televisão, nosso entretenimento em geral são predominantemente escapistas ou celebram conquistas materiais imediatas. Mesmo nossa religiosidade, que poderia ser um caminho para a transcendência, muitas vezes se degrada em teologia da prosperidade, que promete bênçãos materiais em troca de fé e doações.
Não é que sejamos incapazes de abstração ou transcendência por natureza. É que nossa condição material tão precária nos mantém presos aos dois níveis mais básicos da pirâmide de Maslow. Como pensar em autorrealização quando a sobrevivência diária é uma luta constante?
Enquanto todos que ganham um salário de 3000 a 6000 reais se veem como uma classe média com relativo sucesso, a realidade dos que recebem essa média e o padrão brasileiro em relação ao mundo desenvolvido mostra que somos verdadeiramente miseráveis. Para colocar em perspectiva: nosso salário mínimo, ao ser convertido em dólares, traduz-se para 273 dólares aproximadamente, é um valor pífio e miserável. Pouquíssimas pessoas conseguem comprar tralhas insignificantes de plástico como um celular ou notebook com poucos meses de trabalho; têm de se endividar por tempo considerável para conquistar qualquer coisa. Coisas básicas se traduzem em luxo, um telefone, um notebook, uma moto básica, um carro 1.0 básico, tudo se traduz em bens de luxo, tendo em vista que a maioria vai ter que comprar esses bens básicos usados e, às vezes, com muitos anos de uso.
Outro fato que é esquecido: é assustador dirigir pelas cidades brasileiras e notar os modelos de carros que permeiam mesmo as cidades mais desenvolvidas, a ponto de sedãs, que são carros “starter” em países desenvolvidos, serem considerados veículos extremamente luxuosos. Um Honda Civic ou Toyota Corolla, veículos considerados básicos para a classe média americana, são símbolos de status no Brasil. Um BMW ou Mercedes, que na Alemanha são relativamente comuns, aqui são objetos de admiração e inveja, símbolos de riqueza extrema.
E não é apenas no transporte que nossa miséria se manifesta. Nossas casas são menores, nossas ruas mais esburacadas, nossos espaços públicos mais degradados. Mesmo em bairros considerados “nobres”, é comum ver calçadas quebradas, fiação elétrica exposta, saneamento básico deficiente. Comparados aos padrões europeus ou norte-americanos, até nossos condomínios de luxo pareceriam habitações medianas.
Para concluir esta seção do assunto: quantos de nós conseguem viajar duas vezes ao ano? Conseguimos trocar de celular de dois em dois anos tranquilamente? Vivemos em uma situação tão ruim que uma peça de um carro que falha é motivo de endividamento e comprometimento da qualidade da vida familiar. Além disso, quantos conseguem conservar 100 reais que seja por mês para criarem uma reserva de emergência ou para investir? A resposta para todas essas perguntas é desanimadora. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio, mais de 78% das famílias brasileiras estão endividadas. O brasileiro médio não tem reserva financeira para emergências – um problema de saúde, um reparo no carro, uma geladeira que quebra pode significar meses de dívidas a juros estratosféricos.
A capacidade de poupança também é reveladora. Enquanto o brasileiro médio luta para economizar 100 reais por mês (quando consegue), a taxa de poupança pessoal nos Estados Unidos gira em torno de 5% a 7% da renda disponível. Na Alemanha, esse número chega a 10%. No Japão, historicamente, as taxas de poupança já chegaram a 20%.
Daí temos outra questão: somos absolutamente extorquidos pelo Estado em todos os sentidos possíveis. Pagamos impostos absurdos para sequer podermos deixar nossas casas sem muros, não podemos andar nas ruas à noite, se ficou doente e não tem plano de saúde privado, lhe desejo uma boa sorte. É tudo uma piada de mau gosto.
A carga tributária brasileira é comparável à de países desenvolvidos – em torno de 33% do PIB – mas a qualidade dos serviços públicos que recebemos em troca é incomparavelmente inferior. Pagamos impostos dinamarqueses para receber serviços públicos africanos.
Um exemplo concreto: o ICMS sobre energia elétrica no Brasil pode chegar a 30% em alguns estados. Na Alemanha, o imposto equivalente é de aproximadamente 19%. No entanto, a qualidade e a confiabilidade do fornecimento de energia na Alemanha são vastamente superiores, com menos interrupções e melhor atendimento ao consumidor. Outro exemplo gritante é a tributação sobre automóveis. No Brasil, os impostos podem representar até 40% do valor final de um veículo. Isso significa que, ao comprar um carro de 100.000 reais, você paga 40.000 apenas em impostos. E o que recebemos em troca? Estradas esburacadas, sinalização precária, segurança viária deficiente.
E o mais absurdo: mesmo pagando todos esses impostos, ainda precisamos arcar com serviços privados para suprir o que o Estado deveria fornecer. Planos de saúde, escolas particulares, segurança privada, previdência complementar – tudo isso representa uma segunda tributação, informal, mas igualmente onerosa.
Somos absolutamente miseráveis em todos os sentidos possíveis e, o mais trágico, é que naturalizamos a nossa miséria. Uma característica legal do povo brasileiro é o fato de brincarmos com tudo, mas, agora, talvez seja hora de pensarmos na nossa felicidade e em formas de encerrar nossa miséria.
Essa normalização da miséria se manifesta de várias formas. Quando um político é flagrado em um esquema de corrupção milionário e a reação popular é um mero dar de ombros, estamos normalizando a miséria moral. Quando aceitamos que nossos filhos estudem em escolas públicas onde faltam professores, materiais básicos e até mesmo segurança, estamos normalizando a miséria educacional. Quando nos acostumamos a viver cercados por muros, grades e sistemas de segurança, estamos normalizando a miséria da violência urbana.
O “jeitinho brasileiro”, tão frequentemente celebrado como uma característica cultural positiva, é na verdade um sintoma dessa normalização. É a adaptação a um sistema que não funciona, a aceitação tácita de que as instituições são falhas e que precisamos contorná-las para sobreviver. É a resignação disfarçada de criatividade.
Nossa capacidade de rir das próprias desgraças, embora possa ser vista como resiliência, muitas vezes serve apenas para anestesiar a dor e evitar o confronto com a realidade brutal. Transformamos tragédias em memes, escândalos em piadas, e assim seguimos, sem enfrentar os problemas estruturais que perpetuam nossa condição miserável.
Aqui reside a grande tragédia da nossa condição: enquanto o homem do subterrâneo de Dostoiévski já havia superado as necessidades materiais básicas e podia dar-se ao luxo de questionar o sentido da existência e rejeitar o progresso como fonte de felicidade, nós, brasileiros, ainda estamos presos à luta pela sobrevivência material. Não podemos nos dar ao luxo de rejeitar o progresso porque sequer o experimentamos plenamente.
O personagem de Dostoiévski representa uma crítica ao racionalismo exacerbado e ao utilitarismo do século XIX, que prometiam resolver todos os problemas humanos através da ciência e da tecnologia. Ele rejeita essa visão não porque seja materialmente carente, mas porque percebe que mesmo com todas as suas necessidades básicas atendidas, algo fundamental está faltando – um sentido, um propósito, uma conexão autêntica com a vida.
Nós, brasileiros, estamos em uma posição péssima: precisamos urgentemente do progresso material que o homem do subterrâneo rejeita, mas também precisamos evitar cair na mesma armadilha existencial quando (e se) alcançarmos esse progresso. Precisamos de mais riqueza material, sim, mas não como um fim em si mesmo, e sim como um meio para liberar nosso potencial humano em todas as suas dimensões.
O que fazer diante desse quadro desolador? Seria fácil cair no cinismo ou na desesperança, como o homem do subterrâneo. Seria tentador desistir e aceitar que “o Brasil não tem jeito”. Mas talvez haja um caminho alternativo. Primeiro, precisamos reconhecer nossa condição sem eufemismos ou autoengano. Somos, sim, um país miserável. Segundo, precisamos entender que o progresso material é necessário, mas não suficiente. Terceiro, precisamos sonhar com aquilo que vem depois de alcançarmos um relativo sucesso material. Isso significa lutar por políticas públicas que promovam não apenas o crescimento do PIB, mas também a qualidade de vida em sentido amplo: educação de qualidade, cultura acessível, espaços públicos dignos, tempo livre para o lazer e as relações humanas.
O brasileiro é conhecido por sua criatividade e adaptabilidade individual, mas temos dificuldade em coordenar esforços para objetivos comuns de longo prazo. Precisamos superar o imediatismo e o individualismo que nos mantêm presos à miséria, construindo instituições e práticas sociais que permitam a cooperação e a confiança mútua.
Talvez então, em algumas décadas, possamos finalmente nos dar ao luxo de enfrentar as crises existenciais do homem do subterrâneo. E talvez, tendo aprendido com Dostoiévski e com nossa própria experiência de superação da miséria, possamos encontrar respostas mais satisfatórias do que aquelas que o solitário funcionário russo encontrou em seu porão metafórico.
Até lá, continuamos na luta diária pela sobrevivência, com a esperança de que nossos filhos e netos possam um dia se preocupar menos com o pão de cada dia e mais com o alimento da alma. Porque, no fim das contas, é disso que se trata a verdadeira riqueza.