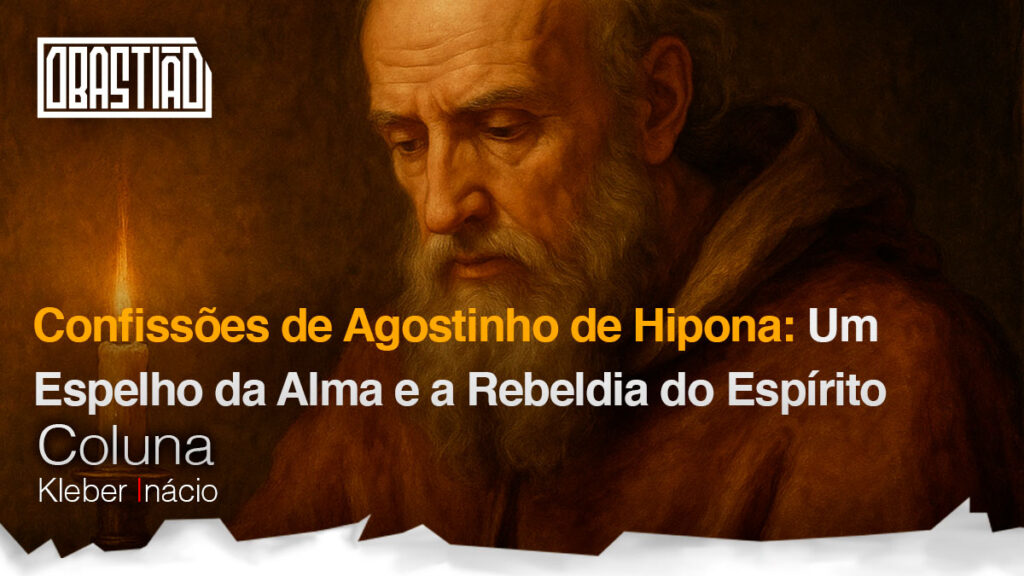Caros leitores, sentinelas do saber e peregrinos das letras eternas, sobretudo dos clássicos que iluminam a condição humana, neste ensaio me proponho a semear reflexões sobre uma obra que não apenas habita o território do sagrado, mas o transcende, erguendo-se como testemunho universal da alma em busca de sentido.
Entre as sombras da Antiguidade e os primeiros clarões da Idade Média, ergue-se uma voz que, mesmo atravessando séculos, não perdeu o fulgor. Confissões não é apenas um livro, mas um cântico da condição humana, uma sinfonia composta com a sinceridade de quem se despe de todos os artifícios para narrar as quedas e ascensões de uma alma inquieta.
Agostinho de Hipona: O Homem por Trás do Santo
Agostinho de Hipona, esse homem que muitos reverenciam como santo e outros, como mestre da suspeita sobre si mesmo, escreveu o que podemos considerar uma obra inaugural do gênero autobiográfico. Porém, reduzi-la ao estatuto frio de “memórias” seria diminuir sua chama. Seu relato é, ao mesmo tempo, testemunho e oração, exposição da carne e exaltação do espírito. É uma confissão que não se contenta em admitir erros, mas quer aprender com eles, iluminando cada recanto da consciência onde, muitas vezes, preferimos manter a penumbra.
Para compreendermos a grandeza desse tratado confessional, é necessário voltar os olhos para a tessitura histórica que o envolveu. Agostinho nasceu em 354, em Tagaste, na Numídia, província do Império Romano. Filho de Mônica, mulher de fé imperturbável, e de Patrício, pagão convertido no estertor da existência, ele trazia no sangue a herança diversa de berberes, fenícios e latinos. Contudo, seu espírito não se contentaria com origens: desde cedo, movia-se num anseio que nenhuma pertença bastava a saciar.
Tagaste era, como tantos recantos do império, um espaço de contrastes: os fastos romanos encontravam o fervor africano; o pensamento clássico tocava as crenças mais antigas. Foi nessa argamassa que se forjou a personalidade de Agostinho: apaixonado pela retórica, sedento de aplausos e inclinado aos prazeres que julgava inofensivos. Mas, no âmago, dormia uma nostalgia de sentido que nenhuma conquista intelectual poderia calar.
Confissões: O Estrondo Interior
Confissões nasce desse estrondo interior. Por meio de sua escrita, o filósofo cristão ressignifica toda sua biografia, como quem transforma ruínas em fundamentos. Ali, o pecado não é apenas falha moral: é uma doença da vontade, uma rendição a ilusões que prometem liberdade, mas engendram cativeiro. Ele narra suas juventudes desordenadas com um pudor que não teme a vergonha. Suas palavras jorram como águas ora cristalinas, ora turvas, sempre plenas de fervor.
Na estrutura do livro, há um ritmo que se aproxima da respiração. Cada capítulo alterna a confissão ao Deus invisível e a contemplação filosófica que tenta compreender a raiz das quedas. O autor não era um mero moralista que enumera culpas; era um investigador da psique, capaz de ver nas escolhas individuais um retrato do drama humano universal.
Ao refletir sobre a infância, ele evoca a condição frágil de quem nada possui senão o grito. O recém-nascido deseja tudo e ignora o limite; quer que o mundo lhe seja extensão. Nesse retrato singelo, revela-se a semente da soberba que, amadurecida, germina todos os vícios. Quando, já jovem, Agostinho entrega-se aos deleites sensuais e à busca frenética por reconhecimento, percebe que se torna escravo daquilo que imaginava dominar.
A Conversão: Entre a Razão e a Graça
A conversão, que ocupa lugar central na narrativa, é um movimento que não nasce de uma súbita iluminação. Ao contrário, vai sendo gestada entre sucessivas desilusões com sistemas filosóficos que prometiam a verdade, mas lhe pareciam incompletos. Entre esses, destacam-se o maniqueísmo e o ceticismo acadêmico. O primeiro lhe oferecia um dualismo simplista, no qual o mal era substância, um princípio rival de Deus. O segundo, um ceticismo radical que beirava a negação de todo critério de verdade.
Com aguda lucidez, o filósofo percebe que ambos padeciam da mesma doença: a incapacidade de admitir que o mal não é uma essência, mas uma privação do bem. Essa descoberta filosófica não ocorre dissociada de seu itinerário espiritual. Seu intelecto ansiava pela razão suprema, mas seu coração buscava o amor que nenhuma criatura poderia prover. Somente quando a mente e o afeto convergiram na entrega a Deus, ele experimentou a serenidade que lhe parecia impossível. Essa serenidade, que tantos pensadores, antes e depois dele, ousaram almejar, não apenas compreender, mas viver e, sobretudo, encarnar no cotidiano da existência.
O Jardim de Milão: O Ponto de Inflexão
O episódio do jardim de Milão é o ponto de inflexão. O santo, consumido pelo conflito, escuta a voz de uma criança que entoa: “Toma e lê”. Ele abre a epístola paulina e encontra o chamado decisivo à renúncia dos prazeres terrenos. É nesse instante que a chama da conversão se torna inextinguível. Aqui, Confissões deixa de ser um relato biográfico e se converte numa espécie de liturgia da consciência.
O que mais me fascina nessa obra não é apenas o relato pungente da transfiguração pessoal. É a ousadia com que o teólogo transforma cada gesto cotidiano numa janela para o mistério. A mais ínfima memória converte-se em chave interpretativa de um enigma maior: o sentido da existência. Não há trivialidade que escape ao seu olhar. Ele descortina no tempo ordinário os lampejos da eternidade.
O Tempo e a Alma: Uma Visão Precursora
Sua linguagem não se contenta com a frieza do conceito. É uma prosa que transpira poesia. Ao mesmo tempo em que especula sobre o tempo, e poucos, antes dele, haviam ousado pensar o tempo como condição da consciência, também se entrega à contemplação do Criador, que o amou mesmo em sua obstinação. É impossível passar incólume pelas páginas em que reflete sobre o passado. Ao evocar suas fraquezas, ele nos arrasta ao espelho de nossas próprias vaidades. Não há aqui disfarce: cada confissão é um convite ao reconhecimento de que, no fundo, todos partilhamos a mesma fenda na alma, essa ferida que só se aquieta quando repousa em algo maior que o ego. Tal peculiaridade, que apenas muito depois ganharíamos vislumbre com Freud e o avanço dos estudos sobre a psique, esse mediador silencioso das forças humanas.
Os ecos dessa obra ecoam em toda a história da cultura ocidental. Por ela, o confessor se tornou mestre não apenas da teologia, mas da literatura, da psicologia nascente e da filosofia existencial. Sua influência percorreu séculos, alcançando desde Tomás de Aquino até as reflexões de Hannah Arendt. Poucos ousaram dissecar tão impiedosamente o próprio coração.
Ao fim de sua vida, cercado pelos vândalos que cercavam Hipona, o filósofo cristão não pensava mais em glória nem em reconhecimento. Passou seus últimos dias em oração, com salmos pregados nas paredes, como se a palavra fosse seu último abrigo contra a dissolução. O que seus inimigos não puderam queimar foi justamente o que tinha de mais precioso: sua biblioteca e seu testemunho. O repouso íntimo de uma mente recolhida e de um coração plenamente habitado pelo infinito.
E assim, o clássico permanece, um relicário de angústias e epifanias, de paixões e renúncias. Quem se aproxima desse livro com olhos desarmados pode reconhecer ali, não apenas a história de um bispo africano, mas o retrato da nossa própria sede de sentido. Porque cada página nos recorda que, por mais que a razão seja necessária, é o coração que finalmente se curva diante do mistério.
Prosseguir a leitura de Confissões é como mergulhar em um rio cujas águas refletem não apenas o rosto do autor, mas o de cada leitor que ousa encarar a própria nudez espiritual. O Santo não escreve para convencer, mas para exalar verdades que brotam da alma. Seus pecados não são exibidos como troféus da redenção, mas como feridas abertas diante de um Deus que vê tudo e, ainda assim, acolhe.
Ao longo de sua narrativa, ele não teme dissecar os movimentos mais íntimos da vontade. É ali que sua filosofia se distancia da tradição grega. Platão e Aristóteles buscaram a essência no cosmos e na razão ordenadora. Agostinho a procura na interioridade. Ele retira o olhar do mundo exterior e o lança para dentro de si mesmo, como quem sabe que o universo mais complexo não é o céu estrelado, mas a consciência turva que nos habita, essa consciência que, como já pressentira Heráclito, jamais permanece idêntica a si mesma. Pois, como disse o pensador de Éfeso, não entramos duas vezes no mesmo rio: o fluxo da água e o fluxo do homem se renovam. Somos correnteza, somos mudança, para o alto ou para o abismo.
“Conhece-te a ti mesmo”, máxima socrática, ganha nova roupagem na pena de Agostinho: conhecer-se é reconhecer-se incompleto, imperfeito, carente de graça. O autoconhecimento não é conquista racional, mas rendição existencial. Por isso, quando escreve sobre o tempo, não o faz como astrônomo, mas como alguém que sente a presença fugidia do agora entre o peso do passado e a ansiedade do porvir.
Seu célebre pensamento sobre o tempo, “sei o que é, se não me perguntarem; mas se me perguntarem, já não sei”, revela a profundidade de sua investigação. O pensador compreende o tempo como distensão da alma, como memória que retém, atenção que foca e expectativa que projeta. O tempo, portanto, não é um fio externo, mas uma ferida interna: vivemos entre o que foi, o que é e o que talvez venha a ser, e nunca nos sentimos inteiros em nenhum desses lugares.
Essa visão antecipa discussões que séculos depois serão retomadas por pensadores como Heidegger. No entanto, enquanto os modernos enfatizam o abandono e a finitude, o filósofo aponta para uma plenitude possível, não neste mundo, mas no eterno. Sua fé não é um apaziguamento ingênuo. É uma luta, uma tensão contínua entre o desejo de Deus e a inclinação à dispersão.
A Atualidade de Confissões
Confissões também é um ataque silencioso aos ídolos do intelecto. Agostinho experimentou os maniqueus, os céticos, os epicuristas e neoplatônicos. Nenhum lhe trouxe descanso. Os discursos eram belos, mas vazios de sentido último. Ele compreende que a verdadeira sabedoria não é apenas saber o que é o bem, mas amar o bem; e esse amor, para ele, só se realiza na entrega ao Criador, na graça.
Há uma denúncia velada, também, à soberba acadêmica. Agostinho não despreza a razão, mas a subordina à caridade. Porque, em suas palavras, “não basta fazer o bem, é preciso fazê-lo bem”. E fazer bem, nesse caso, é agir com humildade, paciência e intenção reta. A ética dele está sempre vinculada à interioridade: não é o ato visível que salva ou condena, mas a motivação que o gera.
No plano social, ele não se esquiva de afirmar: “O supérfluo dos ricos é propriedade dos pobres”. Essa frase, cortante como espada, antecipa discussões modernas sobre justiça distributiva, ética da abundância e miséria fabricada. O convertido de Tagaste, ao contrário do que alguns imaginam, não é um alienado dos problemas terrenos. Mas sua visão é clara: a injustiça nasce do egoísmo, da inversão das ordens do amor. O mal não é um oponente de Deus, mas a sombra lançada onde a luz de Sua presença se ausenta. Ele nasce da escolha humana, quando esquecemos que o outro sente dor, frio, tristeza e fome como nós. O mal é a ruptura da empatia, a recusa da bondade, o eco de uma ausência, não a existência de uma força contrária.
O Legado de Agostinho
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo; esse é o eixo de sua moral. Quando invertemos essa hierarquia, amamos a nós mesmos acima de tudo, usamos o próximo como meio e Deus como justificativa. É daí que surgem as opressões, os vícios, as idolatrias modernas. Porque, no fundo, todo pecado é uma tentativa de ocupar o lugar de Deus.
E é aqui que Confissões se torna radicalmente atual. Vivemos em um tempo que idolatra a autonomia como valor absoluto. A liberdade transformou-se em culto à vontade solitária. No entanto, Agostinho adverte: não há liberdade sem direção, nem autonomia sem verdade. Um ser que nega a própria origem está condenado ao vazio.
A angústia que perpassa entre as páginas do clássico não é a do fracasso, mas do atraso. O lamento do santo é por não ter se entregado antes. Essa consciência da demora, da resistência da alma em aceitar sua fragilidade, é um espelho para nós, filhos de uma modernidade que resiste a admitir a própria sede.
Quando Agostinho escreve “existo, conheço e quero”, ele define o ser humano em sua totalidade: presença, inteligência e desejo. Não somos apenas razão, nem só matéria, nem apenas impulso. Somos tensão viva entre o que somos, o que sabemos ser e o que desejamos ser. Somos abismo e ponte.
Por isso, ao confessar-se, o filósofo nos confessa também. Cada linha sua é uma chave para abrir as trancas da nossa alma. E se ouvirmos com atenção, perceberemos que as palavras que ele dirige a Deus são também um sussurro ao leitor: “Você também busca sentido? Também errou por caminhos belos, mas vazios? Também cansou de si mesmo?” “Preciso de ajuda!”
Se a resposta for sim, e quase sempre será, então há, em Confissões, mais do que um livro: há um guia, uma ferida, uma cura. E não é preciso crer como o Santo cria para se deixar tocar por sua verdade. Porque onde há honestidade, há luz. E ele escreveu com a alma exposta, como quem sabe que apenas o amor redime as trevas.
Se há algo que permanece em mim após essa leitura, é a certeza de que, por mais vasto que seja o conhecimento, ele não substitui o encanto da entrega. A razão é uma tocha; o amor, o caminho. E Agostinho de Hipona, com todas as suas contradições, nos ensina a caminhar.
Porque, como ele mesmo disse, “não é o suplício que faz o mártir, mas a causa”. E sua causa foi amar; amar até as entranhas, até as lágrimas, até a transformação total do ser.