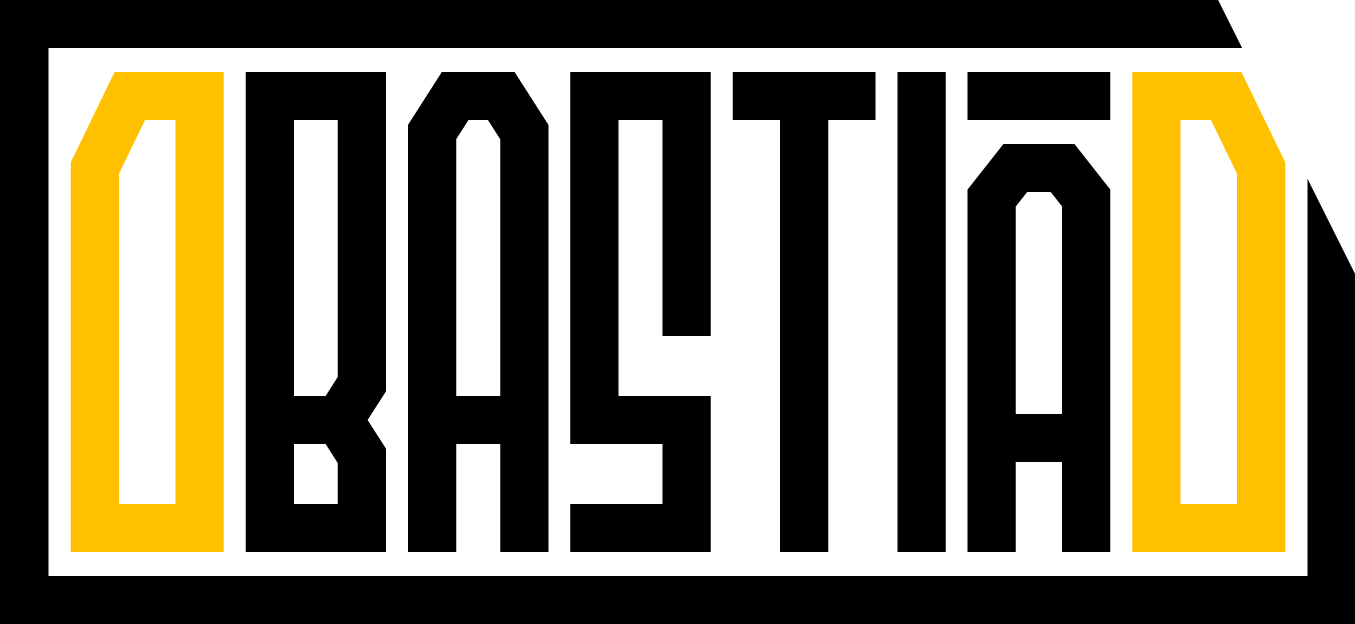O coelho da Páscoa e a fábrica de símbolos
Maravilhosos leitores, todo ano é a mesma coisa. A fé vira embalagem, o símbolo vira chocolate e o povo, feito boi em fila de abate, segue sem perguntar nada. Só obedece. Acha lindo. Compra. Publica no story. E entre um “feliz Páscoa” e outro, esquece que essa festa é para lembrar de morte e ressurreição — não de coelho psicodélico trazendo Kinder Ovo.
Mas tá aí ele, de novo, pulando feito profeta do consumo: o coelhinho da Páscoa. Mascote de uma tradição que virou vitrine. Símbolo que já foi sagrado, mas hoje serve pra encher carrinho e esvaziar significado. O que era culto à fertilidade virou liquidação. O que era ritual ancestral virou marketing sazonal. O que era vida renascendo virou prazo de validade. Se você é do tipo que não se contenta com a embalagem e quer saber o que tem por trás da casca — seja bem-vindo. Vamos desenterrar o coelho da cova do esquecimento histórico e colocá-lo frente a frente com a própria origem.
Todo ano, no mesmo roteiro decorado, lá vem ele: o coelhinho da Páscoa pulando do fundo de algum comercial cafona, sorrindo com dentes branquinhos e segurando ovos de chocolate com laço de fita. As crianças amam, os adultos compram, e o capitalismo agradece. Mas… já parou para se perguntar o que diabos um coelho tem a ver com a ressurreição de Cristo? Ou de onde veio esse bicho que não bota ovo, mas é o mascote da festa?
Prepare-se: a viagem vai passar por rituais pagãos, simbolismos antigos, apropriações religiosas e, claro, o toque mágico do mercado — o maior profeta do nosso tempo.
Antes de qualquer cruz ou coroa de espinhos, havia Ostara. Na mitologia germânica, ela era a deusa da fertilidade, da aurora e da primavera. Ostara (ou Eostre, em versões anglo-saxônicas) era celebrada no equinócio de primavera — tempo de renascimento da natureza, fim do inverno e retorno da luz. E adivinha quem era seu símbolo? O coelho. Sim, ele mesmo. Não por acaso: o bichinho é conhecido por sua impressionante capacidade de reprodução. Em termos simbólicos, um embaixador oficial da fertilidade. Pesquise como esse animalzinho é um tarado e se multiplica como doido.
Naqueles tempos pré-cristãos, o coelho e os ovos pintados (sim, os ovos também) representavam a renovação da vida, a abundância e os ciclos naturais. Nada a ver com chocolate. Nada a ver com Jesus. Mas o tempo, esse escultor de crenças, misturaria tudo.
Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, não fez questão de destruir todas as tradições anteriores. Em vez disso, fez algo mais inteligente: absorveu, adaptou, batizou de “sagrado” o que era profano. Ostara virou Páscoa. Os rituais da primavera passaram a coexistir com a celebração da ressurreição de Cristo. Um sincretismo digno de manual: você pega a simbologia da fertilidade, reinterpreta como “vida nova em Cristo”, e pronto — temos um feriado.
É aí que entra o coelho da Páscoa. Ele atravessou os séculos escondido na bagagem da cultura popular germânica, até que nos séculos XVII e XVIII, principalmente entre os luteranos da Alemanha, aparece o “Osterhase” — uma lebre que trazia ovos coloridos para as crianças bem-comportadas. A tradição cruzou o Atlântico com os imigrantes alemães e fincou raízes nos Estados Unidos. Daí para virar uma febre comercial foi só uma questão de tempo.
Com os desdobramentos de cronos, os ovos de galinha pintados foram substituídos por ovos de chocolate, cortesia das chocolaterias europeias do século XIX. A indústria sorriu, e o coelho virou garoto-propaganda da gula açucarada. Hoje, o animal símbolo da fertilidade virou mascote da Nestlé. Os ovos da criação viraram produtos em prateleiras. E a Páscoa? Bom, essa virou mais uma data na ciranda consumista — tão espiritual quanto uma liquidação relâmpago.
O coelho da Páscoa representa uma das maiores vitórias do sistema simbólico: um animal pagão, fecundo e profano, que se infiltrou no coração de uma das principais festas cristãs. E ninguém mais questiona. O povo compra. O povo come. E o povo esquece.
“Os símbolos perderam seu peso. Tornaram-se adereços.” — escreveu Milan Kundera em A Insustentável Leveza do Ser.
E talvez seja isso que reste do coelho da Páscoa hoje: um adereço, uma fantasia pendurada entre prateleiras, um eco pálido de um tempo em que a celebração da vida era mais que um post no Instagram.
Enquanto isso, os ovos — outrora oferendas à deusa da fertilidade, depois metáforas do túmulo vazio de Cristo — agora são embalagens coloridas com brindes dentro. O coelho, que corria pelos campos anunciando a primavera, corre hoje para cumprir a meta de vendas.
E nós seguimos — “como ovelhas, sem pastor e sem perguntas”, parafraseando Saramago em O Evangelho Segundo Jesus Cristo.
Mas o símbolo resiste. Ele ainda sussurra, por trás do chocolate derretido, que há algo mais. Algo que pulsa na terra, que floresce com as estações, que ressurge apesar do mundo. Como escreveu Clarice Lispector:
“Eu, que simbolicamente morro várias vezes só para experimentar a ressurreição.
Quem sabe, um dia, voltemos a ver o coelho não como um produto, mas como o que ele sempre foi: o mensageiro silencioso da renovação, da fecundidade, da esperança pagã.
Porque toda Páscoa verdadeira nasce de um silêncio interior — e não de uma embalagem brilhante.